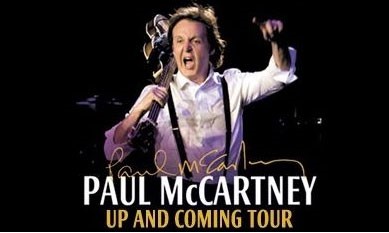
O músico Eduardo Paulo saiu de Santa Catarina e foi até Porto Alegre para conferir o primeiro show do mito Paul McCartney no Brasil, depois de dezessete anos de espera.
Convidado pelo TMDQA!, ele aceitou compartilhar conosco o ótimo relato de toda sua experiência por lá e não deixou escapar nenhum detalhe. Confira!
Nos últimos meses eu fiz duas promessas pra mim mesmo. Nada oficial, nunca sentei e disse que aquilo eram promessas, mas nem precisava porque eram coisas que eu não teria como fazer mesmo se quisesse.
A primeira promessa era de nunca mais voltar pra Porto Alegre. Tudo bem, mais de um milhão de pessoas moram lá e gostam, mas é cinzenta e triste demais pra mim e minhas únicas lembranças da cidade eram as do meu primeiro relacionamento – que não terminou muito bem. A segunda promessa era a de evitar a rodoviária de Florianópolis, já que ela me lembrava os meus outros dois (efêmeros) relacionamentos por uma série de motivos.
Grande coisa, né? Como se fosse tão difícil assim cumprir essas promessas. Por que diabos eu voltaria pra PoA ou pra rodoviária? Eu tava sem grana pra viajar, não tinha ninguém pra visitar e não curtia os lugares. Fim de papo. Não voltaria pra lugares que me deixam desconfortável e triste. No way. Nem em sonho… A não ser que eu tivesse um motivo. Um bom motivo. Bom o bastante pra fazer valer a pena a tortura psicológica que é revisitar demônios que já haviam partido ou que descansavam pacificamente. Um motivo como… Um beatle.
O último show do Paul McCartney no Brasil tinha sido no Pacaembu, em São Paulo, nos idos de 1993. Desde então o país tem esperado pelo retorno do cara. A onda de shows internacionais que apareceram por aqui nos últimos cinco anos até nos deu alguma esperança, mas a gente sabe que o Paul tem o show mais caro do mundo, e pra coisas caras é necessário ter muita grana. Quem poderia trazer Sir Paul com banda, equipe, estrutura, equipamento e efeitos especiais e tornar isso acessível ao público brasileiro? Ninguém. Nem fodendo, não nessa vida. É um sonho ridículo.
Ou pelo menos era até alguém tê-lo tornado real.
Dezenas de rumores a respeito de uma vinda do Paul ao Brasil surgiram nos últimos anos, mas o último deles era particularmente interessante. Alugaram o Beira Rio pra um show dele? E o Morumbi, por duas noites? Ninguém aluga estádio sem um bom motivo. É o tipo de rumor que se confirma. E foi confirmado. Agora era verdade: o Paul viria pro Brasil. A gente vai ver um beatle, porra. Quem imaginaria?
Confesso que não me planejei tão organizadamente quanto devia, mas eu sabia de uma coisa: se eu não conseguisse ingresso pra ver o show em PoA, ainda tinha duas chances. Eu queria ver a quantas iriam as vendas do primeiro lote de ingressos. Eles foram disponibilizados numa quinta-feira de manhã, e ao meio-dia a maior parte já tinha ido pro espaço. Minha amiga Heloize – que eu tinha conhecido pelo Twitter no dia 18 de junho, aniversário do Paul – me passou a senha do fã-clube e disse pra eu correr e tentar comprar. Foi em vão: cheguei tarde demais. Mas era só o primeiro lote. O segundo seria disponibilizado sábado pela manhã.
Sexta-feira à noite eu tinha tudo preparado: os dados pessoais e os do cartão de crédito estavam no auto-preenchimento do site e eu tinha as informações adicionais necessárias prontas pro ctrl + c, ctrl + v. Eu não tinha tempo a perder e não podia me dar ao luxo de falhar. Eu precisava conseguir aquela merda. Dormi só uma hora na madrugada inteira, uma mistura de medo e ansiedade sendo o que me manteve acordado. Quando os ingressos foram liberados, agi rapidamente… E consegui! Ingresso comprado. Aí percebi que veria Sir Paul McCartney ao vivo. Eu era o fiadaputa mais sortudo do mundo.
As semanas se passaram e eu tinha alguns detalhes pra dar conta: comprar passagem de ônibus, reservar hotel, falar com o povo pra não ficar sozinho em Porto Alegre e, o fundamental, economizar grana. E aí tava tudo pronto. Eu embarcaria na sexta-feira, dia 5 de novembro, às 23h59. Arrumei a mochila, conferi tudo duas vezes, beijo no papai, beijo na mamãe e toca pra rodoviária.
A viagem foi uma merda. Seis horas e meia de estrada (do lado do meu grande amigo Dudu) e eu não preguei os olhos – e nem era por nervosismo, eu tava era desconfortável, mesmo. Pelo menos deu pra ver a madrugada gaúcha, muito bonita e estrelada. Aí cheguei em PoA numa manhã fria e chuvosa de sábado.
Procurei meu hotel com o Dudu e o Emilio, outro amigo, e nos despedimos depois de eu encontrá-lo. Hotelzinho simples, mas que cumpria com as obrigações. Dormi umas duas horas até ter que descer pra encontrar meu amigo Érik, que eu jamais havia visto em pessoa até aquele momento, e irmos juntos ao Beira Rio. Encontramos a namorada dele, demos uma andada pelo Centro e rachamos um táxi até o estádio pra retirarmos os ingressos.
A cena que eu presenciei ao chegar em território colorado foi uma das mais curiosas que se possa imaginar: de um lado, o Beira Rio, com beatlemaníacos acampados do lado de fora, helicópteros sobrevoando o ponto, ambulantes vendendo faixas do show e algumas filas; do outro lado, o Gigantinho, que recebia centenas de carolas e padres pra cerimônia de beatificação de uma religiosa gaúcha. Choque de devoções, música e religião. Era curioso de se ver.
Eu, Érik e Juliane – a namorada dele – tiramos fotos em frente a um banner enorme que dizia “Bem-vindo, Paul!”. Eles foram excelentes companhias e a viagem já teria valido a pena se fosse só o passeio que fizemos naquele sábado pela manhã. Pegamos os ingressos, fizemos um pequeno reconhecimento de território e partimos pro Centro pra almoçar. Depois de umas boas risadas e mais umas andadas pelo bairro, eles foram pra casa e eu fui comprar uns mantimentos antes de voltar pro hotel.
Não sou muito de ver TV, mas não tinha mais nada pra fazer no hotel, e o que fiz foi ver TV. A imprensa toda tava em cima do show do Paul. Era o Paul chegando de avião, o Paul saindo de carro, o Paul acenando, o hotel do Paul, os fãs fazendo plantão… Era a beatlemania de volta. Uma cidade de mais de um milhão de habitantes parou pra ver um beatle e, por algum motivo, eu ainda não tava em clima de show. Acho que é porque eu não sei em que tipo de clima uma pessoa que vai ver um beatle deve estar.
Aí chegou o domingo.
Acordei cedão e encontrei o Érik de novo. Ele deixou umas coisas no meu quarto e voltou pra casa da namorada. Eu fui do hotel pra fila do show, e ia passar o dia todo lá pra conseguir um lugar legal. Liguei pra minha amiga Heloize – que, assim como o Érik, eu não conhecia pessoalmente ainda – e nos encontramos na fila atrás do estádio, que tinha pouquíssima gente. E logo apareceu aquele que seria o nosso maior inimigo durante o dia: o sol forte.
O show seria às 21h, e eram 9h quando eu estava oficialmente estabelecido na fila. Seria uma maratona de 12h pra mim, pra Heloize e pros novos amigos dela, um pessoal gente finíssima que conheci por ali também. A gente se ajeitou tão confortavelmente quanto possível, comeu o que encontrou e bebeu água até não ter mais pra vender. Estávamos exaustos, sedentos, impacientes e tudo o que dava pra fazer era conversar. A Helô contou da vigília de 36 horas que ela e aquele pessoal fizeram na frente do Sheraton, o hotel em que o Paul estava. Viram o cara por dez segundos, os sortudos! E ainda conversaram com o chefe de segurança dele, um escocês de sotaque forte (redundância detected).
Uma coisa que percebemos logo foi que estávamos exatamente do lado da entrada que o Paul usaria. Ele passaria por nós a qualquer momento, e este momento foi às 16h. Ele passou de carro pela gente, a três metros de mim, acenando e sorrindo. Eu vi um beatle cara-a-cara. Um dos quatro caras que mudaram o mundo passou por mim. Acenando. Indo pra passagem de som do show que eu tava prestes a ver. Surreal.
Meio que dava pra ouvir a passagem de som do lado de fora do estádio. Em meio à barulheira, reconheci “C Moon“, “Magical Mystery Tour” e “Coming Up“, músicas que não estavam previstas no repertório. O povo do pacote vip (que custava US$ 1200) tava lá dentro pra ver, já. Sortudos.
Às 18h os portões foram abertos e eu corri feito louco. Consegui um lugar a uns 15m, talvez 20m do palco. Perto o bastante. Sentei-me no tapume enquanto mais de 60000 pessoas lotavam o Beira Rio aos poucos. Não acreditei no que vi quando apareceu aquela caralhada de gente. O sol se pôs completamente pouco depois das 20h, quando a banda de abertura saiu do palco vaiada. Não se bota uma banda anônima pra abrir o show de um beatle, ainda mais uma que é movida a pickups, sax e guitarra.
Os telões laterais começaram a exibir um vídeo com imagens da carreira do Paul, sinal de que o show começaria a qualquer momento. Às 21h10 o vídeo acabou e Sir Paul McCartney adentrou o palco.
Puta merda. Puta merda. É ele. Sir James Paul McCartney está num palco exatamente na minha frente. E eu consigo vê-lo claramente. E o baixo Hofner dele também tá lá. E a banda completa. Puta que merda.
Sir Paul olhou pra platéia, fez cara de espanto, lambeu a ponta do indicador esquerdo, fez que tocou a platéia e recuou por estarmos fervendo – e estávamos. Aí a banda começou a tocar. Como era possível? O Paul McCartney tava tocando bem na minha frente, que nem nos discos e nos DVDs. O baixo, a voz, o cara. E eu tava lá. Impossível! Eu jamais poderia estar lá. Eu tava, mas não tava.
O medley “Venus And Mars/ Rockshow/ Jet” abriu a noite. Nas duas primeiras músicas eu ainda tava paralizado, e meio que comecei a me ligar quando entrou “Jet”. Eu cantava junto, pulava, mas eu ainda não tava lá. Ele tava, em carne, osso, sangue e eletricidade, mas e eu?
Com o fim da primeira demonstração de genialidade, Sir Paul se aproximou do microfone e demonstrou sua cordialidade em alto e claro português: “Oi! Tudo bem? Boa noite, Porto Alegre! Boa noite, Brasil! Tudo bem, gaúchos?“. Claro que tá tudo bem, Paul, e eu nem sou gaúcho pra responder a essa pergunta – ou talvez eu seja, mas só por aquela noite. OK, eu tava quase que completamente conectado ao momento. Agora o que é que tu fazes pra eu acreditar no que eu tô vendo, Paul?
Ah, “All My Loving“, claro. Eu gosto dos Wings, eu gosto da carreira-solo, mas eu cresci foi ouvindo Beatles. Foi eles começarem a tocar a música pra eu ligar de vez. Eu tava lá. Eu tava TOTALMENTE lá. Ninguém canta e toca aquela linha de baixo como o Paul. Tu me fazes chorar e pronto, eu tô lá. Sim, eu chorei feito criança. Foi a mistura de sentimentos mais bizarra que eu senti em toda a minha vida. Havia amor, memórias, uma pá de coisas, tudo o que se possa imaginar. Paul McCartney estava tocando “All My Loving” ali, na minha cara. Eu via cada detalhe, cada movimento. Caraio.
Assim que a música acabou ele disse que tentaria falar português durante a noite, o que envolveu expressões como “mas bah, tchê!”, “trilegal!” e “ah, eu sou gaúcho!”. Simpático o senhor, seu Paul. E aí veio “Letting Go“, sinal de que eu não ouviria “Got To Get You Into My Life“, mas sejamos honestos: ele podia fazer dez shows com dez set lists diferentes e todos seriam igualmente geniais, incríveis e perfeitos.
Aí tivemos “Drive My Car” e “Highway“, o Paul trocou o Hofner por uma Gibson Les Paul e eles começaram “Let Me Roll It“. Ele tem 68 anos? Mesmo? Nem fodendo, ele deve ter uns 19. Ah, não tem? Porque ele definitivamente canta como quem tem 19. Que voz! E a guitarra? Puta merda. Ninguém lembra que ele também é um guitarrista genial. Ele tirava da guitarra o mesmo som que sai dos discos que ele lançou há quase 50 anos. Ele é bom.
Depois dessa ele foi pro piano e começou a tocar uma melodia triste em dó menor. Eu sabia o que tava por vir. “The Long And Winding Road“. E mais lágrimas. “1985” e “Let ‘Em In” estavam lá, também, e me fizeram levantar os braços com as mãos mostrando o “W” dos Wings. Após essas duas ele falou que tocaria uma música que escreveu pra “gatinha” dele, Linda McCartney. Chorei antes mesmo de “My Love” começar. Na música, um solo FODA do Rusty Anderson e um baixo preciso do Brian Ray – que parece filho do Gary Busey com o Steven Tyler – pontuaram uma performance perfeita. Ao fim, o público gritava “Linda!”. Um Paul McCartney visivelmente emocionado e honrado agradeceu brevemente ao microfone frontal.
Empunhando um Martin, Paul e a banda tocaram “I’ve Just Seen A Face” e “And I Love Her“, aí a banda saiu do palco. Era hora de tocar “Blackbird“. Enquanto a música era tocada, um globo idêntico à lua desceu do teto do palco. Coisa linda de ver. Quando a música acabou e ninguém achava que dava pra fazer algo mais emocionante, ele toca “Here Today” pro John enquanto outro globo descia, dessa vez um igual à Terra. Chorei, também, mas não pelo John, e sim pelos meus dois avôs que já se foram. Foi uma daquelas horas em que diferentes setores da minha própria história se chocaram em perfeição.
Mas o Paul não queria que ficássemos tristes, então pegou o bandolim, chamou o resto da banda e tocou “Dance Tonight“. Me espantou que uma música relativamente recente e tocada no bandolim tenha feito todas as mais de 60000 pessoas cantarem junto. O baterista, Abe Laboriel Jr., dançava no fundo do palco e fazia todo mundo cair na risada. Sir Paul só percebeu o que tava acontecendo quando se virou e viu o que estávamos vendo, e acabou caindo na risada também.
“Mrs. Vandebilt” era a próxima, e a platéia cantou o “ô-ê-ô” tão alto que o Paul começou a DANÇAR durante a música! Ele sempre se anima em shows, mas nunca tinha visto ele tão animado. Parecia estar se divertindo tanto quanto a platéia, felizmente.
Quando o Abe saiu da bateria e tomou o microfone do Brian, eu sabia que o que vinha era “Eleanor Rigby“. Mais uma vez o povo todo cantou junto, e eu me pergunto se a banda conseguia ouvir a si própria com tantas vozes ecoando no estádio. Paul trocou o violão pelo ukulele e pediu aplausos a um amigo chamado George. Hora de tocar “Something“. Quando a banda entrou no meio da música, chorei feito criancinha novamente. Eu e o resto do estádio. Linda homenagem ao amigo.
Depois de uma ótima performance de “Sing The Changes“, era hora de uma das minhas preferidas. A guitarra abriu a música, a banda entrou e a capa do disco apareceu no telão ao fundo. “Band On The Run“! Que performance foda! O Paul atingiu todas as notas altas. Ele é o melhor. Cada música superava a anterior. Ele nunca nos desapontava!
Era hora de uma música que, segundo ele, nunca tinha sido tocada no Brasil. “Ob-La-Di, Ob-La-Da“! HELL YEAH! A primeira música que eu aprendi a tocar. Eu tinha 14 anos de novo. Ele errou a letra, mas quem liga? Eu jamais achei que fosse vê-lo ao vivo, muito menos tocando essa música. A câmera foi virada pra platéia, e todo mundo tava cantando e aparecendo no telão, eu incluído. É uma puta de uma música.
Ao fim do reggae, um som de avião decolando preencheu o estádio anunciando “Back In The USSR“. Essa música é uma das minhas preferidas porque eu gosto de cantar a harmonia do refrão junto, lembra muito Beach Boys. Eu ia fazer exatamente isso achando que seria o único, já que o Paul costuma colocar o nome do país em que ele tá tocando no meio da música (“Brazil girls make me sing and shout“) e o povo ia querer ouvir. Eu estava errado. Não só eu, mas a banda como um todo se espantou quando o público inteiro cantou a harmonia ao invés da letra principal. Nunca tinha visto disso. O Paul vai lembrar desse show como o dia em que um estádio lotado cantou o “uuuuuuu” do refrão. Ah, e ele cantou “Brazil girls make me sing and shout“, mas ninguém nem percebeu.
Fiquei feliz ao ouvir “I’ve Got A Feeling“. O mais legal é que todo mundo que tava cantando junto tava sendo verdadeiro: todos tínhamos um sentimento lá no fundo que não dava pra esconder. Era uma celebração. Aí veio a Epiphone Casino, que eu não esperava ver, e eles tocaram “Paperback Writer“. Foda, foda, foda.
(clique sobre as imagens para ampliá-las)
“A Day In The Life” foi incrível, e quando eles emendaram “Give Peace A Chance” todo mundo levantou os braços fazendo o sinal de paz e amor. O Wix, que tava quietão atrás dos teclados o show inteiro, se levantou e fez o mesmo. Não havia nada além de paz e amor naquela noite, então não tinha como ter uma música mais apropriada. Mais lágrimas vieram aos meus olhos quando o Paul voltou pro piano pra tocar “Let It Be“. Acho que é a minha música preferida. Ver o cara que a compôs tocando ela na minha frente era mais do que eu podia suportar.
Então chegou a grande hora. “Live And Let Die“! PUTA QUE O PARIU! Lança-chamas, fogos de artifício, explosões, barulheira, tudo! Nunca tinha visto algo daquela magnitude. Tem que estar lá pra saber do que eu tô falando. É incrível. E é ALTO.
Calmaí, o que? Os roadies tão trazendo o piano com a pintura psicodélica pro palco? Caralho, ele trouxe! Hora de tocar “Hey Jude“. Só os homens! Agora só as mulheres! Agora todo mundo!
Ao fim da música, os cinco se abraçaram no palco e curvaram-se perante a platéia.
Dois minutos depois eles voltaram com duas bandeiras enormes: uma brasileira e uma britânica. Eles estavam honrados, dava pra ver. E começaram o primeiro bis com “Day Tripper“. Tudo bem que isso significava que não rolaria “I Saw her Standing There“, mas quem liga? É “Day Tripper”. E ainda teve “Lady Madonna“. E “Get Back“.
Como é que ele toca isso tudo? E ele que escreveu! Isso não são canções. Nem a pau. São entidades. Isso não se canta, isso se REZA. Porque o Paul é Deus. Eu não quero parecer chato aqui, mas goste-se dele ou não ele trouxe paz, amor, felicidade e esperança pra mais gente que muita religião. Não dá pra ir a um show dele e sair achando que ele é humano. Não rola. Ele não pode ser, ele não é. Mas onde é que eu estava, mesmo?
Ah, sim, fim do primeiro bis. Hora do segundo e último, ele volta com o Epiphone Texan. Caralho, é “Yesterday“! Nada pode ser maior. NADA. Aí ele quebra a calmaria de uma balada movida a violão e orquestra com a porrada de “Helter Skelter“. Muito, muito, mas MUITO alta. E tão foda quanto a anterior.
Sir Paul então foi ao microfone e disse que era hora de se despedir, mas antes leu alguns cartazes e chamou duas meninas ao palco. Elas queriam autógrafos nos seus braços pra que fossem tatuados. Sortudas. Alguma dúvida de que ele é O CARA? As gurias saíram, era hora da última música. “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (reprise)/ The End“. Fim de música, tchau pro Paul e uma chuva de papel picotado verde-e-amarelo toma conta do Beira Rio. Um fim lindo pra um show lindo. Três horas passaram em três segundos.
Saída a banda do palco, as pessoas na platéia começaram a chorar e se abraçar. Completos desconhecidos se abraçando, uma celebração de amor e amizade. Todos sabíamos que havíamos testemunhado um evento histórico. Sabíamos que o que quer que viesse depois disso não seria nada. Encontrei novamente a Helô, que me deu um dos melhores abraços que já ganhei, e choramos juntos. Era mágico. Ela me disse “vai, chora! Tu vais lembrar dessa noite pro resto da tua vida, vais sonhar com ela todos os dias! Tu viu o cara!”. E ela tava certíssima.
Despedimo-nos meio que apressadamente, reencontrei o Érik e a Ju e era hora de enfrentar as ruas lotadas de gente de Porto Alegre. Tudo o que eu queria era água, descanso e a minha casa.
Enquanto eu pensava no que tinha acabado de acontecer, uma coisa tinha ficado bem clara: o que faz a vida valer a pena é o amor. Se tu amas os teus amigos, a tua família e o que tu fazes, esse é o caminho certo. Eu tava com pessoas certas no lugar certo e fazendo a coisa certa. Não tinha como dar errado.
E sabe por quê?
Porque, no fim, o amor que se ganha é igual ao que se cria.
Valeu, Paul. Valeu demais.